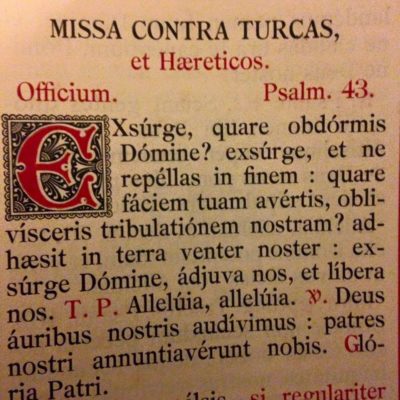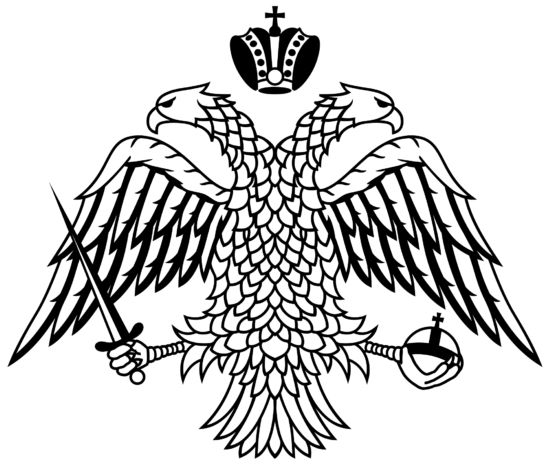A história envolvendo Neymar, a faixa com “100% Jesus” e a reclamação do Comitê Olímpico Internacional é uma falsa polêmica — ou melhor, uma polêmica à qual se está dando mais atenção do que ela merece. Resumindo a história, o Brasil ganhou no último sábado a sua primeira medalha de ouro de futebol nas Olimpíadas. Durante a cerimônia de premiação, o capitão do time brasileiro subiu no pódio com uma faixa amarrada na cabeça com a inscrição “100% Jesus” — não é a primeira vez que ele o faz. O COI disse que iria enviar uma carta de protesto à delegação brasileira afirmando que o ato era inaceitável no evento. Houve protestos por parte da mídia cristã.
Como já antecipei, penso que se trata de uma falsa polêmica. Primeiro porque a manifestação não é a melhor expressão de Fé do mundo; segundo porque não vale a pena mendigar o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional; terceiro porque o próprio COI disse que não haveria sanções associadas ao incidente — ou seja, tudo se trata de mera vontade de espezinhar.
A primeira questão é talvez a mais relevante aqui. Sinceramente, eu desconheço o testemunho público da Fé Cristã de Neymar — ou ao menos o testemunho público que vá além de usar uma bandana com o Santíssimo Nome de Nosso Senhor nas cerimônias onde ele é premiado. O craque parece levar uma vida em tudo indistinguível da de todos os outros atletas jovens, ricos e famosos — festas, mulheres, brigas. Neste último fim de semana mesmo, com o nome de Cristo na testa e tudo, o atleta ganhou as manchetes dos jornais por conta de ter xingado um torcedor! É certo que a Fé Cristã deve ser difundida; mas será que não estamos fazendo isso errado? Sinceramente eu não sei quem presta maior desserviço ao Cristianismo: o COI, que não quer atletas fazendo referências a Cristo, ou o atleta que, fazendo questão de dar mostras públicas da sua Fé, comporta-se de ordinário como alguém que nada deve à mensagem evangélica!
Não se trata de condicionar o apostolado à perfeição moral, evidentemente. O ponto é preservar o Evangelho do escândalo. Irritamo-nos, e com toda a razão do mundo, quando os burocratas ateus do COI desprezam a Fé do povo e querem afastar dos olhos do mundo quaisquer referências públicas ao Divino Salvador; ora, por que razão não nos irritaríamos, também e com até maior medida, quando um atleta amarra uma faixa com o nome de Cristo na testa e vai arrumar confusão com os torcedores a ponto de precisar ser contido por seguranças? Porventura isso não é também um desprezo terrível para com os símbolos cristãos?
[O medalhista Usain Bolt é outro atleta que deu recentemente muito mau testemunho ao ser filmado nas boates cariocas de maneira bem pouco casta, para dizer o mínimo: o mesmo Bolt que há bem poucos dias foi divulgado como sendo devoto de Nossa Senhora das Graças. Aqui, no entanto, a questão é toda outra; não me recordo de ter visto o velocista ostentando a sua Fé Católica pelos pódios nos quais subiu durante as Olimpíadas. A Medalha Milagrosa cai muito bem sobre o peito dos pecadores: que a Virgem da Rue du Bac proteja o jamaicano das brasileiras oportunistas! O problema não é ser cristão e cometer pecados — ser pecador é aliás pré-requisito para ser cristão. O problema é preocupar-se mais com dizer-se cristão do que com portar-se, ou ao menos tentar portar-se, de acordo com as exigências deste nome. Sigamos.]
Há uma outra razão pela qual a revolta parece errar o alvo: parece que, com ela, concede-se aos organizadores dos jogos olímpicos uma autoridade e um prestígio que eles, absolutamente, não detêm. O que tem o COI a ver com a Fé dos atletas, com os símbolos que eles usam, com os gestos que eles fazem, com as preces que eles recitam? Que necessidade existe da aprovação destes senhores?
É bem sabido que as normas do Comitê não têm nada a ver com nenhuma “neutralidade religiosa” (como se isso fosse possível). Trata-se, é notório, de uma deliberada e seletiva perseguição aos símbolos e manifestações do Cristianismo, e não de qualquer religião. Isto é muito fácil de ver. Aqui, no Rio de Janeiro, no início da competição, é impossível não lembrar da mulher que jogou vôlei de praia coberta da cabeça aos pés sob o sol escaldante de Copacabana. A vestimenta, que destoava do contexto muitas ordens de grandeza mais do que a pequena faixa do jovem Neymar, era evidentemente um símbolo religioso — no caso, do islamismo. Não lembro de ter visto o COI reclamar de Doaa Elghobashy. Mais ainda: na mídia houve até festa, dizendo que as atletas estavam quebrando um tabu. Se certos símbolos religiosos são aceitos sem maiores polêmicas enquanto outros ensejam reclamações formais, então é óbvio que o objeto da norma proibitória não é a generalidade das religiões, mas sim uma religião (ou algumas religiões) específica(s).
Ora, se o COI está visivelmente empenhado em uma cruzada anti-cristã sob a desculpa da neutralidade religiosa, o que mais é necessário fazer além de desmascarar-lhe a parcialidade? Apontar a medonha contradição já não é suficiente? Exigir de um órgão incoerente e tendencioso… o quê?, o reconhecimento da licitude dos símbolos e gestos cristãos?, a autorização para falar o nome de Jesus Cristo?, não é dar-lhe uma importância desmedida? Por que os atletas cristãos precisariam da autorização do COI para falar de sua Fé? Por que Nosso Senhor teria que pedir licença aos burocratas de um comitê para subir no pódio conquistado pelos Seus seguidores? Ora, que o Comitê Olímpico se limite àquilo que lhe diz respeito! Quanto aos atletas, que sigam ignorando os seus (do COI) queixumes, que mais que isso é rebaixar a Fé aos caprichos dos organismos internacionais.
A situação seria diferente se o órgão estivesse falando em alguma espécie de punição. Se os atletas estivessem sendo minimamente coagidos na manifestação de suas crenças, se estivessem sob a ameaça de alguma sanção, aí sim seria o caso de dizer com voz altiva que compete obedecer antes a Deus que aos homens, que os comitês organizadores não têm jurisdição sobre a consciência alheia e não podem determinar a quem os atletas oferecem suas vitórias ou a quem deixam de as oferecer. Mas nada disso é assim. Sabendo que não tem legitimidade alguma para impedir o uso de uma faixa com o nome de Jesus por um jogador cristão ao mesmo tempo em que placidamente permite indumentárias islâmicas completas a uma atleta muçulmana, o COI não teve nem mesmo a coragem de ameaçar com sanções. Por outra: disse taxativamente que não haveria sanção alguma. É apenas um protesto vazio, digno de adolescentes birrentos, ao qual não convém conceder mais do que um solene desprezo.
Em suma: se há alguma coisa de censurável na atitude do menino Neymar, tal é o uso meramente externo de um símbolo cristão sem que a isso sejam acrescentados alguns mínimos sinais de que se tem em verdadeira conta a seriedade da mensagem evangélica. A pretensão do Comitê Olímpico de censurar as celebrações dos atletas é descabida e, além do mais, incoerente com a própria atitude do COI diante de outras manifestações análogas — e por isso não merece ser levada a sério. A despeito dos maus exemplos dos atletas cristãos e das picuinhas dos burocratas ateus, o fato é que a Fé não depende nem da coerência daqueles nem do beneplácito destes para ser vivida. E vivê-la inclui professá-la em particular como em público — direito natural contra o qual nada podem as cartas de protesto enviadas por todos os comitês do mundo.