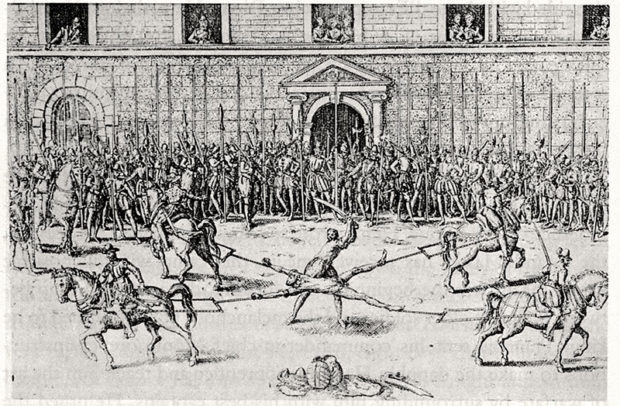O Estadão traz hoje uma pequena coluna da lavra do revmo. padre José Arnaldo Juliano, capelão do Mosteiro da Luz em São Paulo. Segundo o sacerdote, de cada dez confissões que ele atende, quatro estão relacionadas ao aborto.
É um número altíssimo, tremendo!, que nos autoriza — penso — a tirar algumas conclusões bem duras.
Antes de qualquer coisa, isso revela o avançado nível de barbárie em que nos encontramos. A banalização da vida — mormente da vida humana inocente e indefesa — atingiu patamares que provavelmente fariam corar de vergonha os pagãos de antes de Cristo. A questão mais grave, penso, é a indiferença. O aborto ainda é rechaçado pela maioria da população brasileira; no entanto, ninguém parece se importar com a sua prática escancarada, obscena, a céu aberto. No âmbito intelectual parece que as pessoas no geral compreendem que um feto no ventre da mãe é um ser humano cuja vida ou morte não pode estar sujeita à livre escolha de seus pais; mas no dia-a-dia, na vida prática, no quotidiano, as pessoas têm uma deplorável capacidade de virar o rosto e fingir que não estão vendo nada. Parece ser reencenada aqui aquela triste máxima sobre a corrupção do nosso povo: todos a condenam, mas em determinadas situações todos a praticariam.
Depois: o número revela o imenso mal provocado pela leniência dos poderes públicos no combate a este crime horrendo. Se a índole do povo é tendente à dissolução, compete aos governantes refrear-lhe os maus instintos. Mas a verdade é que nós assistimos, nas últimas décadas, à implantação sistemática e consistente de políticas públicas tendentes a facilitar cada vez mais o crime horrendo do aborto. O padre Lodi denuncia isso pelo menos desde 1999. O resultado está aí: por conta da banalização do mal, muitas mulheres psicologicamente fragilizadas acabam sendo empurradas — muitas vezes por companheiros inescrupulosos — para o assassínio covarde dos seus filhos. E a isso os poderes públicos fecham os olhos, e esses dramas terríveis a sociedade finge não ver.
E isso nos leva à seguinte outra questão: tanto sangue inocente derramado clama aos Céus vingança, e ainda haveremos de padecer muito em expiação pelos nossos crimes. Se o Brasil agoniza sob a corrupção política institucionalizada, se as nossas taxas de homicídios ganham das de países em guerra, se mosquitos nos transmitem pragas horrendas, se as drogas ceifam um número cada vez maior de vidas, se o desemprego cresce e a economia vai mal, tudo isso é pouco — é quase nada — perto do castigo que merecemos pela indiferença com a qual tratamos o crime horrível do aborto. Se este crime, que é o mais horrendo e o mais vil de todos, não nos escandaliza, então nós perdemos o direito de nos escandalizar diante do que quer que seja. Se o nosso coração está tão endurecido a ponto de não se comover com uma criança assassinada no ventre de sua mãe — um ser humano inocente morto, um de nós!, assassinado no santuário da vida –, então somos bestas selvagens sobre as quais a mão implacável de IHWH dos Exércitos não poderá jamais pesar o suficiente.
Tudo isso é terrível e é dramático, mas resta no fundo da caixa uma esperança a nos alentar. É que as mulheres que cometem esse ato infame ainda se arrependem e, entre lágrimas, procuram um sacerdote para se confessar — no Mosteiro da Luz de São Paulo, quatro em cada dez confissões versam sobre o aborto! Se o pecado é horrendo, o arrependimento é sublime e, o perdão, magnânimo. Se os nossos confessionários estão abarrotados de criminosos e assassinos, que Deus seja louvado! Pior seria se os criminosos não acorressem ao Tribunal da Misericórdia, se os assassinos não fossem limpar nas lágrimas da Penitência o sangue de suas mãos. Os números que o padre José Arnaldo nos trazem assustam, sim, sem dúvidas, mas também servem de alento: o senso do pecado continua, a voz da consciência ainda clama a despeito da massiva propaganda pró-aborto a que estamos sujeitos diuturnamente. A despeito da despudorada opção pelo crime que o Brasil institucionalmente fez, os brasileiros ainda se envergonham do homicídio, ainda se arrependem do assassinato, ainda pedem perdão pelo crime horrendo do aborto. Se o Céu se alegra com um único pecador arrependido, talvez este cortejo de assassinos penitentes nos alcance um pouco da Misericórdia de Deus.