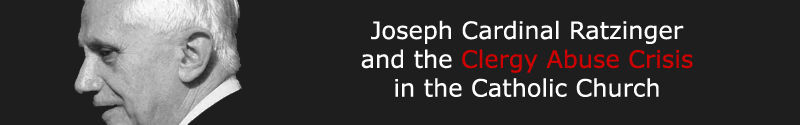Tradução: Wagner Marchiori
Original: ZENIT (em castelhano)
Grifos e destaques do tradutor
A EUROPA NA CRISE DAS CULTURAS
Pronunciada pelo Cardeal Ratzinger no Mosteiro de Subíaco em 01 de abril de 2005.
Vivemos em um momento de grandes perigos e de grandes oportunidades para o homem e para o mundo; um momento que é também de grande responsabilidade para todos nós. Durante o século passado as possibilidades do homem e seu domínio sobre a matéria aumentaram de forma verdadeiramente impensável. No entanto, seu poder de dispor do mundo permitiu que sua capacidade de destruição alcançasse dimensões que, às vezes, nos horrorizam. Por isso, é espontâneo pensar na ameaça do terrorismo, esta nova guerra sem confins e sem fronteiras. O temor de que o Terror possa se apoderar de armas nucleares ou biológicas não é infundado e permitiu que, dentro dos Estados de direito, se acudisse a sistemas de segurança semelhantes aos que antes existiam somente nas ditaduras; mas, de todo modo, permanece a sensação de que todas estas precauções podem ser insuficientes, pois não é possível e nem desejável um controle global. Menos visíveis, mas nem por isso menos inquietantes, são as possibilidades que o homem adquiriu de manipular a si próprio. Ele (o Homem) mediu as profundidades do ser, decifrou os componentes do ser humano e, agora, é capaz, por assim dizer, de construir por si mesmo o homem, que já não vem ao mundo como dom do Criador, mas como um produto de nosso atuar, produto que, portanto, pode inclusive ser selecionado segundo as exigências por nós mesmos definidas. Assim, já não brilha sobre o homem o esplendor de ser ‘imagem de Deus’, que é o que confere sua dignidade e inviolabilidade, mas somente o poder das capacidades humanas. Não é mais do que a ‘imagem do homem’, mas, de que homem?
A isso tudo se acrescenta os grandes problemas planetários: a desigualdade na repartição dos bens da terra; a pobreza crescente; o esgotamento da Terra e de seus recursos; a fome; as enfermidades que ameaçam o mundo todo e o choque de culturas. Tudo isso nos mostra que o aumento de nossas possibilidades não teve como correspondência um desenvolvimento equivalente de nossa energia moral. A força moral não cresceu na mesma medida que o desenvolvimento da ciência, mas antes, diminuiu, porque a mentalidade técnica encerra a moral no âmbito subjetivo e, pelo contrário, necessitamos de uma moral pública, uma moral que saiba responder às ameaças que estão sobre a existência de todos nós.
O verdadeiro e maior perigo deste momento está justamente neste desequilíbrio entre as possibilidades técnicas e a energia moral. A segurança que precisamos como pressuposto de nossa liberdade e dignidade não pode vir de sistemas técnicos de controle, mas que somente pode surgir da força moral do homem: aonde esta força faltar ou não for suficiente o poder que o homem tem se transformará cada vez mais em poder de destruição.
É certo que existe hoje um novo moralismo cujas palavras chaves são ‘justiça, paz, conservação da criação’, palavras que reclamam valores essenciais e necessários para nós. No entanto, tal moralismo resulta vago e cai, assim, quase que inevitavelmente, na esfera político-partidário. É sobretudo uma pretensão dirigida aos demais e não um dever de nossa vida cotidiana. De fato, o que significa justiça? Quem a define? O que pode produzir a paz? Vimos nas últimas décadas em nossas ruas e em nossas praças como um pacifismo pode se desviar em direção a um anarquismo destrutivo e ao terrorismo. O moralismo político dos anos 70, cujas raízes certamente não estão mortas, foi um moralismo com uma direção errada, pois estava privado de racionalidade serena e, em última instância, colocava a utopia política acima da dignidade do indivíduo, mostrando que podia chegar a desprezar o homem em nome de grandes objetivos.
O moralismo político, tal como o vivemos e ainda hoje estamos vivendo, não só não abre caminho a uma regeneração, mas que a bloqueia. E o mesmo se pode dizer de um cristianismo e de uma teologia que reduzem o cerne da mensagem de Jesus – o “Reino de Deus” – aos “valores do Reino”, identificando esses valores com as grandes palavras-chave do moralismo político, e proclamando-as, ao mesmo tempo, como síntese das religiões. Logo, esquece-se, assim, de Deus, apesar de ser Ele o sujeito e a causa do Reino de Deus. Em seu lugar ficam grandes palavras (e valores) que se prestam a qualquer tipo de abuso.
Este breve olhar sobre a situação do mundo nos leva a refletir sobre a realidade atual do cristianismo e, portanto, sobre as bases da Europa; essa Europa que antes, poderíamos dizer, foi um continente cristão, mas que foi, também, o ponto de partida dessa nova racionalidade científica que nos possibilitou grandes possibilidades e, ao mesmo tempo, grandes ameaças. Certamente o cristianismo não surgiu na Europa e, portanto, não pode ser classificado como religião européia ou a religião do âmbito cultural europeu. Mas, historicamente foi na Europa que recebeu sua ‘marca’ cultural e intelectual mais eficaz e, por isso, fica unido de maneira especial à Europa. Por outro lado, é igualmente certo que foi na Europa, desde os tempos do Renascimento e de maneira mais plena desde os tempos da ‘ilustração’ (1), que se desenvolveu essa racionalidade científica que não somente levou a uma unidade geográfica do mundo na época dos descobrimentos (ao encontro dos continentes e das culturas), mas que, agora, muito mais profundamente, graças à cultura técnica possibilitada pela ciência, imprime seu selo a todo o mundo, ou ainda, em certo sentido o uniformiza.
(1) Considera-se nessa tradução os termos Ilustração/Ilustrada e Iluminismo/Iluminista como conceitos equivalentes (Nota do Tradutor)
E atrás dessas pegadas desta forma de racionalidade, a Europa desenvolveu uma cultura que, de uma maneira desconhecida antes pela humanidade, exclui Deus da consciência pública, seja negando-O totalmente, seja julgando que Sua existência não é demonstrável (é incerta) e, portanto, pertencente ao âmbito das decisões subjetivas, algo, no mínimo, irrelevante para a vida pública. Esta racionalidade puramente funcional, por assim dizer, resultou numa desordem da consciência moral também nova para as culturas que até então existiram, pois considera que racional é só aquilo que se pode provar com experimentos. Dado que a moral pertence a uma esfera totalmente diferente desaparece como categoria e tem que ser identificada de outro modo, pois há que se admitir que a moral é necessária. Em um mundo baseado no cálculo, é o cálculo das conseqüências que determina o que se deve considerar como moral ou não moral. E assim a categoria de bem, como foi exposta claramente por Kant, desaparece. Nada em si é bom ou mal, tudo depende das conseqüências que uma ação permite prever.
Se o cristianismo, por um lado, encontrou sua forma mais eficaz na Europa, é necessário, por outro lado, dizer que também na Europa se desenvolveu uma cultura que constitui a contradição absoluta mais radical não só do cristianismo, mas, também, das tradições religiosas e morais da humanidade. Por isso, compreende-se que a Europa está experimentando uma autêntica “prova de tensão”; por isso se entende também a radicalidade das tensões que nosso continente deve enfrentar. Mas, daqui emerge ainda, e sobretudo, a responsabilidade que nós, os europeus, devemos assumir neste momento histórico: no debate sobre a definição da Europa, sobre sua forma política, não se está apenas em jogo uma batalha nostálgica de “retaguarda” da história, mas, antes, uma grande responsabilidade para a humanidade atual.
Olhemos com mais precisão esta contraposição entre duas culturas que marcaram a Europa. No debate sobre o preâmbulo da Constituição Européia tal contraposição se mostrou em dois pontos controversos: a questão da referência a Deus na Constituição e a menção das raízes cristãs da Europa. Dado que no artigo 52 das Constituição se garantiu os direitos institucionais das Igrejas, podemos, diz-se, estar tranqüilos. Mas, isto significa que as igrejas, na vida da Europa, encontram lugar no âmbito do compromisso político, enquanto que, nos fundamentos da Europa não há espaço para as pegadas de seu conteúdo.
As razões que se oferecem no debate público para esta conclusão NÃO são superficiais e é evidente que mais que esclarecer as verdadeiras motivações, as escondem. A afirmação de que a menção das raízes cristãs da Europa fere os sentimentos de muitos não cristãos que vivem nela é pouco convincente, já que se trata, além de tudo, de um fato histórico que ninguém pode seriamente negar.
Naturalmente esta menção histórica contém uma referência ao presente, pois, ao mencionar as raízes, indicam-se as fontes originais de orientação moral, isto é, um fator de identidade da Europa. A quem, então, se ofenderia? A identidade de quem ficaria ameaçada? Os muçulmanos, a quem freqüentemente se alude nessa questão, não se sentem ameaçados por nossos fundamentos morais cristãos, mas, sim, pelo cinismo de uma cultura secularizada que nega seus próprios fundamentos. E tampouco se ofendem nossos concidadãos judeus pela referência às raízes cristãs da Europa já que essas raízes remontam ao monte Sinai: levam a marca da voz que se fez ouvir sobre o monte de Deus e nos unem nas grandes orientações fundamentais que o Decálogo legou à humanidade. O mesmo se pode dizer da referência a Deus: a menção a Deus não ofende os pertencentes a outras religiões. O que lhes ofende é, antes, a tentativa de construir a comunidade humana sem Deus.
As motivações dessa negativa à referência a Deus e às raízes cristãs NÃO são mais profundas do que permitem intuir os argumentos que nos oferecem. Pressupõem a idéia de que SOMENTE A CULTURA ILUSTRADA RADICAL, que alcançou seu pleno desenvolvimento em nosso tempo, poderia constituir a identidade européia. Junto a ela podem, portanto, coexistir diferentes culturas religiosas com seus respectivos direitos, DESDE QUE E NA MEDIDA EM QUE RESPEITEM OS CRITÉRIOS DA CULTURA ILUSTRADA E A ELA SE SUBORDINEM.
Esta cultura ilustrada fica substancialmente definida pelos direitos “de liberdade”. Baseia-se na liberdade como um valor fundamental que tudo mede: a liberdade de escolha religiosa, que inclui a neutralidade religiosa do Estado; a liberdade para expressar a própria opinião, com a condição de que não se coloque em dúvida este cânone; o ordenamento democrático do Estado, isto é, o controle parlamentar sobre os organismos estatais; a formação livre de partidos; a independência da Justiça; e, finalmente, a tutela dos direitos do homem e a proibição de discriminações. Neste caso, o cânone está ainda em formação, já que também há direitos humanos que são contrastantes, como, por exemplo, no caso do conflito entre o desejo de liberdade da mulher e o direito de viver do que está para nascer.
O conceito de discriminação se amplia cada vez mais e, assim, a proibição da discriminação pode se transformar progressivamente em uma limitação da liberdade de opinião e da liberdade religiosa. Logo não se poderá afirmar que a HOMOSSEXUALIDADE, como ensina a Igreja Católica, constitui uma desordem objetiva na estruturação da existência humana. E o fato de que a Igreja está convencida de que não tem o direito de conferir a ORDENAÇÃO SACERDOTAL ÀS MULHERES é considerado, por alguns, como algo inconciliável com o espírito da Constituição européia.
É evidente que este cânone da cultura ilustrada, que longe está de ser algo definitivo, contêm valores importantes dos quais, precisamente como cristãos, não queremos e nem podemos renunciar; no entanto, é evidente também que a concepção mal definida (ou não definida) de liberdade, que está na base dessa cultura, inevitavelmente implica em contradições; e é evidente que precisamente por causa de seu uso (um uso que parece radical) implica em limitações da liberdade que há apenas uma geração eram inimagináveis. Uma confusa ideologia da liberdade conduz a um dogmatismo que se está revelando cada vez mais hostil para a liberdade.
Sem dúvida, devemos voltar a falar do problema das contradições internas da forma atual da cultura ilustrada. Mas, antes, temos de terminar de descrevê-la. Pertence à sua natureza, enquanto cultura de uma razão que tem finalmente consciência completa de si mesma, o fato de assomar-se de uma ambição universal e conceber-se como completa em si mesma, sem necessidade de ser complementada por outros fatores culturais.
Vêem-se claramente ambas características quando se propõe o tema de quem pode chegar a ser membro da Comunidade européia e, sobretudo, no debate sobre o ingresso da Turquia nela. Trata-se de um Estado, ou talvez melhor, de um âmbito cultural, que não tem raízes cristãs, mas que recebeu a influência da cultura islâmica. Atartuk pretendeu transformar a Turquia em um Estado laicista, tentando implantar o laicismo – amadurecido no mundo cristão da Europa – em um terreno muçulmano.
Podemos nos perguntar se isso é possível: segundo a tese da cultura ilustrada e laicista da Europa, somente as normas e conteúdos da cultura ilustrada podem determinar a identidade da Europa e, conseqüentemente, todo Estado que faz seus esses critérios pode pertencer à Europa. Não importa, ao final, a trama de raízes no qual se implanta esta cultura da liberdade e da democracia. E precisamente por isso se afirma que as raízes não podem entrar na definição dos fundamentos da Europa, tratando-se de raízes mortas que não formam parte da identidade atual. Como conseqüência, esta nova identidade, determinada exclusivamente pela cultura ilustrada, comporta também que Deus não tem nada a ver com a vida pública e com os fundamentos do Estado.
Deste modo, em certo sentido, tudo se torna lógico e plausível. De fato, poderíamos desejar algo melhor que o respeito à democracia aos direitos humanos? Mas, de qualquer maneira, é inevitável a pergunta se esta cultura ilustrada laicista é realmente a cultura, descoberta finalmente como universal, capaz de dar uma razão comum a todos os homens; uma cultura à qual se deveria ter – qualquer um e em qualquer lugar – acesso, ainda que sobre um húmus histórica e culturalmente diferenciado. E nos perguntamos, por fim, se é verdadeiramente completa em si mesma, de modo que não tem necessidade alguma de raízes fora de si.
SIGNIFICADO E LIMITES DA CULTURAL RACIONALISTA ATUAL
Encaremos, agora, estas duas últimas perguntas. À primeira, isto é, à pergunta de se se alcançou a filosofia universalmente válida e totalmente científica na qual se expressaria a razão comum de todos os homens, é necessário responder que, indubitavelmente, alcançou-se conquistas importantes que podem pretender ter uma validade geral: a conquista de que a religião não pode ser imposta pelo Estado, mas que somente pode ser acolhida na liberdade; o respeito dos direitos fundamentais do homem e iguais para todos; a separação dos poderes e o controle do poder.
De todo modo, não se pode pensar que estes valores fundamentais, reconhecidos por nós como geralmente válidos, possam se realizar do mesmo modo em qualquer contexto histórico. Não se dão em todas as sociedades os mesmos pressupostos sociológicos para uma democracia baseada em partidos como acontece no Ocidente; de modo que a total neutralidade religiosa do Estado, na maior parte dos contextos históricos, pode se considerar como uma mera ilusão.
E assim chegamos aos problemas mencionados na segunda pergunta. Mas esclareçamos antes a questão se as filosofias modernas ilustradas, consideradas em seu conjunto, podem ser consideradas como a última palavra da razão comum de todos os homens. Estas filosofias se caracterizam pelo fato de serem positivistas e, portanto, anti-metafísicas, de maneira que, ao final, Deus não pode ter nelas nenhum lugar. Estão baseadas em uma auto-limitação da razão positiva que é adequada no âmbito técnico, mas que quando se generaliza provoca uma mutilação do homem. Como conseqüência, o homem deixa de admitir toda instância moral fora de seus cálculos e – como já vimos – o conceito de liberdade, que num primeiro olhar poderia parecer estender-se de forma ilimitada, acaba levando à auto-destruição da liberdade.
Indubitavelmente as filosofias positivistas contêm elementos importantes de verdade. Porém, esses se baseiam em uma auto-limitação da razão, típica de uma situação cultural – a do Ocidente moderno – e, por isso, não podem ser a última palavra da razão. Ainda que pareçam totalmente racionais, não são a voz da razão mesma, pois também estão vinculadas culturalmente, ou seja, estão vinculadas à situação do Ocidente atual.
Por este motivo não são, absolutamente, as filosofias que, em algum momento, serão válidas em todo o mundo. Mas, sobretudo, deve-se dizer que esta filosofia ilustrada e sua respectiva cultura são incompletas. Corta conscientemente suas próprias raízes históricas privando-se, assim, das forças regeneradoras das quais ela própria surgiu – essa memória fundamental da humanidade sem a qual a razão perde sua orientação.
De fato, considera-se agora válido o princípio segundo o qual a capacidade do homem consiste em sua capacidade de ação. AQUILO QUE SE SABE FAZER, PODE-SE FAZER. Já não existe um “saber fazer” separado do “poder fazer”, porque atentaria contra a liberdade, que é o valor supremo. Mas, o homem sabe fazer muitas coisas e sabe fazer cada vez mais coisas; e se este “saber fazer” não encontra sua medida em uma norma moral, converte-se, como já podemos observar, em poder de destruição.
O homem sabe clonar homens e, por isso, o faz. O homem sabe usar homens como “armazém” de órgãos para outros homens e, por isso, o faz. E o faz porque parece ser exigência de sua liberdade. O homem sabe construir bombas atômicas e, por isso, as faz, estando pela mesma linha de princípios, também disposto a usá-las. No final, até o terrorismo se baseia nessa modalidade de “auto-autorização” do homem e não nos ensinamentos do Corão.
A radical separação da filosofia ilustrada de suas raízes acaba desprezando o próprio homem. O homem, no fundo, não tem nenhuma liberdade – dizem-nos os porta-vozes das ciências naturais – em total contradição com o ponto de partida de toda essa questão. Não se deve acreditar que é (o homem) algo diferente de todos os demais seres vivente e, portanto, também deveria ser tratado como eles – dizem-nos os porta-vozes mais avançados de uma filosofia definitivamente separada das raízes da memória histórica da humanidade.
Havíamos proposto duas perguntas: se a filosofia racionalista (positivista) é estritamente racional e, por conseguinte, universalmente válida, e se é completa. É auto-suficiente? Pode – ou inclusive deve – relegar suas raízes históricas no âmbito do passado e, portanto, no âmbito do que só pode ser válido subjetivamente? Devemos responde a ambas perguntas com um claro NÃO. Esta filosofia não expressa a razão completa do homem, mas, somente uma parte dela e, por causa desta mutilação da razão, não pode ser considerada racional. Logo, é também incompleta e somente pode “se curar” se restabelecer de novo o contato com suas raízes. Uma árvore sem raízes simplesmente seca…
Ao se afirmar isto não se nega tudo que há de positivo e importante nesta filosofia, mas que se afirma, sim, a sua necessidade de ser completada e sua profunda deficiência. E, deste, modo, voltamos a falar dos dois pontos controvertidos do preâmbulo da Constituição européia. O confinamento das raízes cristãs não se revela como a expressão de uma tolerância ‘superior’ que respeita por igual todas as culturas ao não privilegiar nenhuma, mas, antes, como a absolutização de um pensamento e de um estilo de vida que se contrapõe radicalmente às demais culturas históricas da humanidade.
A AUTÊNTICA CONTRAPOSIÇÃO QUE CARACTERIZA O MUNDO DE HOJE NÃO É A QUE SE PRODUZ ENTRE AS DIFERENTES CULTURAS RELIGIOSAS, MAS ENTRE A RADICAL EMANCIPAÇÃO DO HOMEM DE DEUS, DAS RAÍZES DA VIDA, DE UM LADO; E, DE OUTRO LADO, AS GRANDES CULTURAS RELIGIOSAS. SE CHEGARMOS A UM CHOQUE DE CULTURAS, NÃO SERÁ PELO CHOQUE ENTRE AS GRANDES RELIGIÕES – que sempre lutaram uma contra a outra, mas que também sempre souberam conviver juntas – MAS, SIM, POR CAUSA DO CHOQUE ENTRE ESTA RADICAL EMANCIPAÇÃO DO HOMEM E AS GRANDES CULTURAS HISTÓRICAS.
Deste modo, o rechaço à referência a Deus não é expressão de uma tolerância que quer proteger as religiões que não são teístas e a dignidade dos ateus e agnósticos, mas, antes, a expressão de uma consciência que quer ver Deus definitivamente cancelado da vida pública da humanidade, encerrado no âmbito subjetivo de culturas residuais do passado. O RELATIVISMO, que constitui o ponto de partida de tudo isto, converte-se em um dogmatismo que se crê na posse do conhecimento definitivo da razão e com o direito a considerar todo o resto unicamente como uma etapa da humanidade, no fundo já superada, e que pode ser relativizada adequadamente. Na realidade, tudo isso significa que necessitamos raízes para sobreviver e que não devemos perder a Deus de vista se queremos que a dignidade humana não desapareça.
O SIGNIFICADO PERMANENTE DA FÉ CRISTÃ
Estou propondo um rechaço do Iluminismo e da Modernidade? Absolutamente não. O cristianismo, desde o princípio, compreendeu a si próprio como a religião do “logos”, como a religião segundo a razão. Não encontrou seus percussores entre as outras religiões, mas nessa ilustração filosófica que ‘limpou’ o caminho das tradições para sair em busca da verdade e do bem, do único Deus que está além de todos os deuses.
Enquanto religião dos perseguidos, enquanto religião universal, além dos diversos Estados e povos, negou ao Estado o direito de considerar a religião como parte do ordenamento estatal, postulando, assim, a liberdade da fé. Sempre definiu os homens – todos os homens sem distinção – como criaturas de Deus e imagem de Deus, proclamando como princípio, ainda que nos limites imprescindíveis dos ordenamentos sociais, a mesma dignidade a todos.
Neste sentido a Ilustração é de origem cristã e não é por acaso que tenha nascido única e exclusivamente no âmbito da fé cristã, ali onde o cristianismo – por desgraça – converteu-se tradição e religião do Estado. Ainda que a filosofia, enquanto busca de racionalidade – também de nossa fé – tenha sido sempre uma prerrogativa do cristianismo, havia-se domesticado em demasia a voz da razão.
Foi e é mérito da Ilustração haver recolocado em questão estes valores originais do cristianismo e o haver devolvido à razão sua própria voz. O Concílio Vaticano II, na constituição sobre a Igreja no mundo contemporâneo, sublinhou novamente esta profunda correspondência entre cristianismo e Ilustração, buscando chegar a uma verdadeira conciliação entre a Igreja e a modernidade, que é o grande patrimônio que ambas as partes devem tutelar.
Ora bem, faz-se necessário que ambas partes reflitam sobre si mesmas e estejam dispostas a se corrigirem. O cristianismo deve se lembrar sempre de é a religião do “logos”. É fé no “Creatur Spiritus”, no Espírito criador, do Qual procede tudo o que existe. Esta deveria ser precisamente hoje sua força filosófica, pois o problema se funda SE O MUNDO VEM DO IRRACIONAL – e sua razão não é senão um subproduto, talvez até prejudicial, de seu desenvolvimento – OU SE O MUNDO PROVEM DA RAZÃO – e é, conseqüentemente, seu critério e sua meta.
A fé cristã se inclina por essa segunda tese, tendo, assim, desde o ponto de vista puramente filosófico, realmente ‘boas cartas para jogar’, apesar de que muitos hoje consideram somente a primeira tese como moderna e racional por antonomásia. No entanto, uma razão surgida do irracional – e que é, em última instância, ela própria irracional – não constitui uma solução para nossos problemas. Somente a razão criadora, e que se manifestou no Deus crucificado como Amor, pode verdadeiramente nos mostrar o caminho.
No diálogo tão necessário entre laicistas e católicos, os cristãos devem estar muito atentos para se manterem fiéis a esta linha de fundo: viver uma fé que provem do “logos”, da razão criadora, e que, portanto, está também aberta a tudo o que é verdadeiramente racional.
Ao chegar a esse momento queria, em minha qualidade de crente, fazer uma proposta aos laicistas. Na época da Ilustração se tentou entender e definir as normas morais essenciais dizendo-se que seriam válidas ‘ etsi Deus non daretur’, mesmo no caso de Deus não existir. Na contraposição das confissões religiosas e na crise da imagem de Deus, tentaram-se manter os valores essenciais da moral por cima das contradições e buscar uma evidência que os fizessem independentes das múltiplas divisões e incertezas das diferentes filosofias e confissões. Deste modo, quiseram assegurar os fundamentos da convivência e, em geral, os fundamentos da humanidade. Naquele momento da história, pareceu que era possível, pois as grandes convicções de fundo surgidas no cristianismo em grande parte resistiam e pareciam inegáveis. Mas agora já não é assim.
A busca de uma certeza tranqüilizadora, que ninguém pudesse contestar independentemente de todas as diferenças, falhou. Nem sequer o esforço, realmente grandioso, de Kant foi capaz de criar a necessária certeza compartilhada por todos. Kant negou que se pudesse conhecer a Deus no âmbito da razão pura, mas, ao mesmo tempo, colocou Deus, a liberdade e a imortalidade como postulados da razão prática, sem a qual, coerentemente, não era possível, para ele, a ação moral.
A situação atual do mundo não nos leva a pensar que talvez tivessem razão de novo? Digo-o com outras palavras: a tentativa, levada ao extremo, de considerar as coisas humanas menosprezando completamente Deus nos leva cada vez mais ao abismo, ao encerramento total do homem. Deveríamos, então, voltar ao axioma dos Ilustrados e dizer: mesmo quem não consiga encontrar o caminho da aceitação de Deus deveria buscar viver e dirigir sua vida “veluti si Deus daretur”, como se Deus existisse. Este é o conselho que dava Pascal a seus amigos não crentes; é o conselho que queríamos também dar a nossos amigos que não crêem. Deste modo, ninguém fica limitado em sua liberdade e nossa vida encontra um novo sustentáculo e um critério cuja necessidade é urgente.
O que mais necessitamos nesse momento da história são homens que, através de uma fé iluminada e vivida, façam que Deus seja crível nesse mundo. O testemunho negativo de cristãos que falavam de Deus e viviam de costas a Ele, obscureceu a imagem de Deus e abriu a porta à incredulidade. Necessitamos de homens que tenham o olhar fixo em Deus, aprendendo n’Ele a verdadeira humanidade.
Necessitamos de homens cujo intelecto seja iluminado pela luz de Deus e a quem Deus abra o coração, de maneira que seu intelecto possa falar ao intelecto dos demais e seu coração possa abrir o coração dos demais.
Somente através de homens que tenham sido tocados por Deus é que Deus voltará entre os homens. Necessitamos de homens como Bento de Nursia, que em um tempo de dissipação e decadência, penetrou na solidão mais profunda conseguindo, depois de todas as purificações que sofreu, levantar-se até a Luz, regressar e fundar Montecasino, a cidade sobre o monte que, com tantas ruínas, reuniu as forças das quais se formou um mundo novo.
Deste modo, Bento, como Abraão, chegou a ser pai de muitos povos. As recomendações a seus monges apresentadas no final de sua “Regra” são indicações que nos mostram o caminho que conduz para o alto, a sair da crise e dos escombros. “Assim como há um mau zelo de amargura que separa de Deus e leva ao inferno, há, também, um zelo bom que separa dos vícios e conduz a Deus e à vida eterna. Pratiquem, pois, os monges este zelo com a mais ardente caridade, isto é, ‘adiantando-se para honrar uns aos outros’; tolerem com suma paciência suas debilidades, tanto corporais como morais […] pratiquem a caridade fraterna castamente; temam a Deus com amor; […] e absolutamente nada anteponham a Cristo, que nos leve a todos à vida eterna” (capítulo 72).